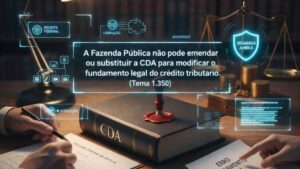É importante que você tenha em mente que jurisdição, ação e processo são institutos imbricados com um mesmo fenômeno: o processo. Em razão, portanto, dessa trilogia estrutural, os princípios da jurisdição também figurarão como princípios do processo (estritamente considerado) e, alguns deles, como pressupostos de existência (órgão investido de jurisdição) e validade (competência e imparcialidade) do processo. Por outro lado, alguns desses princípios figuram também como características da jurisdição, como é o caso da imparcialidade e da inércia.
Princípio do juízo natural[1]
O princípio do juízo natural deve ser compreendido sob dois enfoques: objetivo e subjetivo.
Objetivamente, o princípio do juízo natural desdobra-se em duas garantias básicas: preexistência do órgão jurisdicional ao fato, ou proibição de juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII); e o respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência (art. 5º, LIII).
A jurisdição só pode ser exercida por órgãos monocráticos ou colegiados previstos na Constituição da República. Proíbe-se a criação de juízos ou tribunais para julgamento de determinadas causas relacionadas a fatos já consumados (tribunais de exceção). Nem mesmo os tribunais podem subtrair do juízo natural as causas que originariamente lhe foram cometidas.
Outro aspecto objetivo é a competência. Consoante Leonardo Greco, “juiz natural é o juiz legalmente competente, aquele a quem a lei confere in abstrato o poder de julgar determinada causa, que deve ter sido definido previamente pelo legislador por circunstâncias aplicáveis a todos os casos da mesma espécie”.[2] O exemplo clássico é o do Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Há, ainda, um aspecto subjetivo que também integra o princípio do juízo natural: a imparcialidade. Ressalte-se que a imparcialidade figura como uma das características da função jurisdicional, como princípio da jurisdição e como pressuposto processual. A atuação de um juiz impedido, por exemplo, invalida o processo, ensejando até a propositura de ação rescisória. O órgão, por si só, é abstrato. Ele, o órgão, é composto por agentes (permanentes e variáveis). Em um sentido lato, todos eles exercem munus público, inclusive os advogados. Os agentes públicos são remunerados por vencimento do próprio Estado; já os advogados recebem honorários.
Para que o juízo seja natural, além do aspecto objetivo, é indispensável que o juiz e seus auxiliares sejam imparciais, aí incluídos o escrivão, o perito, os conciliadores e mediadores.
Quanto aos advogados, públicos ou privados, bem como os defensores públicos, como defensores dos interesses das partes que representam, são parciais por excelência.
Os motivos que podem caracterizar a parcialidade do juiz ou de outros atores do processo são de duas ordens: os impedimentos, de cunho objetivo, peremptório, e a suspeição, de cunho subjetivo e cujo reconhecimento demanda prova. Conquanto os dispositivos que tratam do impedimento e da suspeição (arts. 144 e 145) refiram-se apenas ao juiz, as hipóteses ali previstas aplicam-se também aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo (art. 148).
Especificamente no caso do Ministério Público, como já afirmado, a sua atuação como parte não lhe confere a mesma parcialidade do advogado. Em razão das funções institucionais que lhe são atribuídas pelo art. 127 da Constituição (defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais homogêneos), o membro do Ministério Público deve sempre agir com imparcialidade.
Viola o princípio do juízo natural, portanto, o promotor de justiça que deixar de pedir a absolvição de um réu que ele sabe, a priori, ser inocente, ou que atue fora de suas atribuições (promotor de exceção). Igualmente viola o referido princípio, o promotor de justiça que não obstante a prova colhida na fase do inquérito (policial ou civil público), por picardia, dela se afasta e temerariamente propõe ação penal ou ação civil pública. Tal como ocorre com o magistrado, o membro do Ministério Público que antes do ajuizamento da ação ou no curso do processo, atraído pelas luzes dos holofotes, concede entrevistas e emite opinião sobre o caso, deve ser reputado suspeito, o que enseja o afastamento do processo.
Conquanto vários doutrinadores, em especial os penalistas, falem em princípio do promotor natural, a expressão não tem muito sentido. O que importa não é a pessoa, mas o órgão, o qual é integrado também pelo representante do Ministério Público (Promotor de Justiça, Procurador da República ou Procurador do Trabalho). O mais preciso, portanto, é falar apenas em juízo natural, expressão que necessariamente abrangerá o membro do Ministério Público, juiz e demais agentes que desempenham munus público ao longo do processo. Para não induzir o nosso leitor a erro, é bom ressalvar que, apesar de considerarmos inadequada a expressão “promotor natural”, o STF utiliza tal terminologia. Aliás, já tratou do tema no Informativo nº 511, ao considerar que este princípio representa “a impossibilidade de alguém ser processado senão pelo órgão de atuação do Ministério Público dotado de amplas garantias pessoais e institucionais, de absoluta independência e liberdade de convicção, com atribuições previamente fixadas e conhecidas” (HC nº 90.277/DF).[3]
Princípio da improrrogabilidade[4]
Os limites da jurisdição, em linhas gerais, são traçados na Constituição, não podendo o legislador ordinário restringi-los nem os ampliar. A improrrogabilidade traçará, então, os limites de atuação dos órgãos jurisdicionais. Todos os juízes (e aqui me refiro à pessoa do juiz) são investidos de jurisdição, mas só poderão atuar naquele órgão competente para o qual foram designados, e somente nos processos distribuídos para aquele órgão. Fora de sua função, o juiz é um cidadão comum.
Situação diferente é a da maioria das outras profissões. Em regra, o médico, o dentista, o engenheiro, o administrador de empresas podem exercer a profissão em qualquer lugar do país. Já o juiz só poderá fazê-lo naquela vara ou comarca (onde só há uma vara) para a qual foi designado e no processo que lhe foi distribuído. Uma situação que vivenciei em minhas andanças por este país bem revela o que se está a dizer, ou melhor, o que não se está querendo dizer. Trata-se de verdadeira tentativa de prorrogabilidade da jurisdição.
No aeroporto de Manaus, uma senhora tentava embarcar para o exterior, acompanhada de um menor. O funcionário da companhia área afirmou que o embarque da criança só seria possível com a autorização do juiz e, aí, se iniciou a discussão na fila do check-in. Como sabemos, o juízo competente naquela situação – autorização de embarque de menor ao estrangeiro – seria o juízo da infância e juventude da comarca de Manaus. Não sei por que razão, no meio da confusão, como se grita perguntando se há um médico quando alguém tem um infarto, um daqueles envolvidos na tumultuada e interminável discussão deu o grito: tem algum juiz por aqui? E, ato contínuo, um cidadão se apresentou como tal, assinou de imediato a autorização e, com isso, a senhora e o garotinho puderam embarcar… Coisas do nosso país, que basta dar uma carteirada para furar a fila, destravar uma catraca ou mesmo autorizar o embarque de uma criança. Até hoje não sei se aquele cidadão de fato era juiz. Aliás, de fato e de direito; no caso concreto ele não era juiz e como tal não poderia ter atuado.
A situação caracteriza um antiexemplo do princípio da improrrogabilidade. A jurisdição só pode ser exercida nos estritos limites traçados em lei. Fora desses limites, o juiz, ao contrário do médico, é um cidadão como outro qualquer. Ele (o juiz) permanece no cargo, mas sem função jurisdicional.
Como sabemos, neste país, vale quase tudo, até juiz atuando fora da sua competência e promotor de justiça, sem qualquer vínculo com a vara da infância e juventude, querendo entrar no cinema de graça, a pretexto de verificar se ali havia algum menor em situação irregular. Aliás, algumas vezes já pude presenciar uma “otoridade” arrancar uma carteira colorida (há vermelhas, pretas e até lilases) e, em tom “austeroso”, indagar ao aterrorizado interlocutor: sabe com quem está falando?
Princípio da indeclinabilidade (ou da inafastabilidade)
Se, por um lado, não se permite ao julgador atuar fora dos limites definidos pelas regras de competência e distribuição, por outro, também a ele não se permite escusar de julgar nos casos a que a tanto está compelido. O órgão jurisdicional, uma vez provocado, não pode recusar-se, tampouco delegar a função de dirimir os litígios, mesmo se houver lacunas na lei, caso em que poderá o juiz valer-se de outras fontes do direito, como a analogia, os costumes e os princípios gerais (art. 4º da LINDB).[5] A garantia encontra-se consubstanciada no art. 5º, XXXV, da CF/1988, dispositivo que traduz não apenas a garantia de ingresso em juízo ou de julgamento das pretensões trazidas, “mas da própria tutela jurisdicional a quem tiver razão”.[6]
Este princípio é tratado em diversos julgados, inclusive de tribunais superiores, como decorrente da vedação ao non liquet. Esta expressão traduz-se na proibição do magistrado de deixar de decidir as causas que as partes submetem à sua apreciação. A ideia também é extraída no art. 140 do CPC/2015, pelo qual “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. Ressalte-se que o fato de o art. 140 não ter contemplado esses meios de integração, como dispunha o art. 126, parte final, do CPC/1973) é irrelevante, porquanto a mesma previsão já se encontra inserida no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.[7]
Na Roma Antiga, era possível que os juízes pronunciassem o non liquet, ou seja, que deixassem de decidir uma determinada causa quando ela não estava clara ou quando não se tinha meios para julgá-la. Em nosso ordenamento, se estiver presente alguma lacuna, caberá ao magistrado utilizar as formas de integração da norma jurídica constantes no art. 140 do CPC/2015 e também no art. 4º da LINDB.
Princípio da inevitabilidade
Relaciona-se com a autoridade da decisão judicial, que, uma vez transitada em julgado, se impõe independentemente da vontade das partes. Provocada a jurisdição e não sendo requerida a desistência da ação ou implementada a causa de extinção sem julgamento do mérito, não será possível evitar que se profira sentença sobre a relação jurídica controvertida e que sobre essa sentença se recaiam os efeitos da coisa julgada. Assim, se não concordar com a decisão, deve-se recorrer; caso contrário, as partes a ela ficarão sujeitas em caráter inevitável.
Princípio da indelegabilidade
Relaciona-se com os princípios da improrrogabilidade e da indeclinabilidade. Tal como não se admite a prorrogação da atividade de um julgador fora dos limites traçados pelas regras de competência, salvo nos casos expressos em lei, e igualmente não se permite que o juiz se escuse de decidir uma causa que lhe foi distribuída, também não pode ele ou o tribunal delegar suas funções a outra pessoa ou órgão jurisdicional. Se a lei disciplina a competência jurisdicional, não há razões para afastá-la ou permitir que esta função seja exercida por outrem. Há, no entanto, algumas exceções. Os tribunais podem delegar a execução de suas decisões aos juízes de primeiro grau; os tribunais com mais de vinte e cinco membros podem criar órgão especial para exercer, por delegação, as funções do Plenário; a carta de ordem pode conter delegação da função probatória a outro juízo; o relator procede à admissibilidade do recurso por delegação do órgão colegiado.
“Esse texto foi extraído do Curso de Direito Processual Civil, de autoria de Elpídio Donizetti e publicado pela Editora GEN”.
.
.
.
Elpídio Donizetti Sociedade de Advogados
Facebook: https://www.facebook.com/elpidiodonizetti
Instagram: https://www.instagram.com/elpidiodonizetti
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/elp%C3%ADdio-donizetti-advogados-4a124a35/
[1] Em razão do personalismo da jurisdição fala-se comumente em princípio do juiz natural. Mas, em razão do parâmetro que norteia o agir estatal (Estado Democrático de Direito), o mais correto é falar em juízo (órgão jurisdicional).
[2] GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. Revista Jurídica, 305, mar. 2003.
[3] Mais recentemente, o STJ utilizou essa expressão, aduzindo que a atuação de grupos especializados do Ministério Público, a exemplo do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), não ofende o princípio do promotor natural” (AgRg no AREsp 1608332/SP, j. 14.04.2020).
[4] Alguns doutrinadores usam como sinônimo deste princípio o da territorialidade (ou aderência ao território).
[5] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: ordinário e sumário. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 2, t. I, p. 252.
[6] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 199.
[7] Art. 4º da LINDB: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.